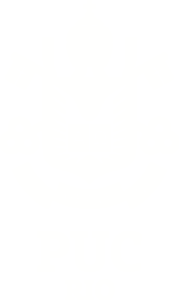Brenda Gusmão
Foi nos corredores da PUC-Rio que o cineasta Carlos Diegues começou sua carreira, nos anos 1960. Estudante de Direito e atuante nos movimentos estudantis, fundou o cineclube Nelson Pompéia, o primeiro da Universidade, e criou um espaço de experimentações cinematográficas ao lado de colegas como Arnaldo Jabor, David Neves e Helena Solberg. Nas exibições e debates realizados foram amadurecidas as ideias que fariam de Cacá um dos expoentes do Cinema Novo, movimento artístico que buscava uma representação crítica e autêntica da sociedade brasileira, ideal que perseguiu ao longo de seis décadas de carreira.

Crédito: Acervo Flavio Kactuz
Diegues tinha com a PUC-Rio um vínculo de várias gerações: o pai do cineasta, o sociólogo, antropólogo e folclorista Manuel Diegues Jr. (1912-1991), foi um dos fundadores do Departamento de Sociologia e Política e professor benemérito da PUC-Rio. A filha do sociólogo e irmã do diretor, Madalena Diegues, também foi professora de Antropologia no Departamento de Sociologia da Universidade. A terceira geração da família voltou aos pilotis: a filha de Cacá, Isabel Diegues formou-se em Letras, e caçula Flora (1986-2019) estudou no Departamento de Comunicação. Hoje, o neto do cineasta José Pedro cursa Estudos de Mídia no Departamento de Comunicação.
Entre as produções realizadas no campus da PUC-Rio está o curta-metragem “Oito Universitários” (1967), com David Neves. De caráter documental, o filme registra a percepção política da juventude universitária carioca nos primeiros anos da ditadura militar. Nele, os diretores questionam os estudantes sobre a visão do Brasil naquele contexto, suas expectativas em relação à política e à sociedade, e os caminhos para promover mudanças. A obra permaneceu sem identificação por 40 anos no acervo da Cinemateca do Museu de Arte do Rio de Janeiro até ser redescoberta por Hernani Heffner, conservador-chefe da instituição. O pesquisador, que foi professor do Departamento de Comunicação por mais de 15 anos, conta que o curta foi encaminhado ao acervo propositalmente para ser protegido da repressão da época.
– É um registro importante de um momento inaugural da ditadura e de como isto afetou universidades como a PUC, seus estudantes e essa geração em relação a um futuro que ainda estava em aberto. O filme não pôde circular porque, obviamente, incomodava a ditadura.
Heffner revela que a lata tinha apenas o número ‘8’, estratégia também usada para a preservação de títulos como “Cabra Marcado Para Morrer” (1984), de Eduardo Coutinho, que recebeu o rótulo de “A Rosa do Campo”.
– Cacá viveu intensamente esse momento de vida universitária, vida que foi confrontada com o golpe militar em 1964. Ele assumiu uma postura crítica em relação ao golpe e direcionou suas produções para serem um cinema combativo, que pedia o fim da ditadura. Esse regime de exceção foi um duro golpe não só para ele como pessoa engajada, como artista, mas para a geração dele – completa Heffner, que relatou a história em entrevista ao grupo de pesquisa Práticas do Contra-Arquivo, coordenado pela professora Patrícia Machado, Coordenadora-adjunta do PPGCOM. O projeto é dedicado a mapear e analisar imagens em movimento não oficiais produzidas no período da ditadura militar (veja a íntegra).
Um pensador do Brasil
A obra de Cacá Diegues atravessa gerações de estudantes e professores de Comunicação da PUC-Rio. O filme “Quilombo”, de 1983, deriva de um roteiro escrito em colaboração com o antropólogo Everardo Rocha, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio, que coordenou a pesquisa histórica do filme e lançou em 1990 o romance “Palmares: mito e romance da utopia brasileira”, ficção histórica antropológica que narra a guerra entre o quilombo e o sistema colonial. Também professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação, Andréa França conheceu a obra de Diegues como aluna nos anos 1980.
– “A Grande Cidade” me mostrou um cinema inovador, urbano, distante dos sertões de “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de Glauber Rocha, e de “Vidas Secas”, de Nelson Pereira dos Santos. Me mostrou um cinema que dança vigoroso em meio às tragédias urbanas – escreveu em artigo em homenagem ao cineasta (leia a íntegra).
Para o professor de Cinema Brasileiro Sérgio Mota, não é difícil falar sobre a imensa importância que Cacá Diegues tem para a história do cinema brasileiro, não só pela importância que teve no Cinema Novo ao lado de Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni e outros, mas também por todos os clássicos que produziu com a sua filmografia, uma contribuição que se estendeu até o fim da vida, aos 84 anos, ao dirigir a sequência de “Deus é Brasileiro” (2003).
– Cacá Diegues foi um cineasta sempre ativo no debate intelectual e nunca saiu da pauta de discussões nas aulas do curso de Estudos de Mídia da PUC. É difícil destacar personagens importantes dos filmes do Cacá. A gente pensa em “Xica da Silva”, “Deus é Brasileiro”, “Quando o Carnaval Chegar”, “Tieta do Agreste”, “Dias Melhores Virão”, mas é impossível na minha memória de cinéfilo de não citar Salomé, Lorde Cigano e Andorinha, da Caravana Rolidei de “Bye Bye Brasil”. Filmaço, filmaço. Viva Cacá Diegues, viva o cinema brasileiro sempre.
Professora de Imagem e Som e Estéticas da Imagem, Denise Lopes destaca que Diegues foi sobretudo um grande pensador do Brasil:
– Seus filmes que marcaram a minha geração, falam de um Brasil alegre, democrático, inclusivo e sincrético, um Brasil que ele acreditava ser possível. Ele achava que o cinema tinha o poder político de criar, de transformar. Só tenho que agradecer a Cacá Diegues. O legado dele jamais será esquecido, e os filmes dele vão ser sempre lembrados nas aulas de cinema e de audiovisual da PUC.
O professor Pedro Henrique Ferreira, que leciona disciplinas como Cinema e Audiovisual: Desafios e Panorama do Cinema Mundial, conheceu o cinema de Diegues ainda na Universidade, nos anos 2000, com os filmes exibidos pelo cineclube CinePUC.
– Comecei a assistir aos filmes dos cinemanovistas e me encantou muito o Chuva de Verão, de 1978, que é uma crônica poética da Zona Norte do Rio de Janeiro por um senhor aposentado. Vejo ecos deste filme no cinema de André Novais Oliveira, por exemplo. Acho que pode interessar muito às novas gerações de realizadores – afirma.
Além da filmografia, entrevistas e registros de a visão do diretor sobre o cinema ainda continuam a ser explorados. O historiador e professor de cinema Flávio Kactuz teve a oportunidade de entrevistá-lo em dezembro de 2019, no Museu Solar Grandjean de Montigny, na PUC-Rio, com um grupo de ex-alunos, para um projeto de história do audiovisual brasileiro. Para Kactuz, Cacá Diegues sempre teve uma compreensão clara e profunda sobre a cultura brasileira. Ouvir o cineasta falar sobre seus filmes, o Cinema Novo, a abordagem na direção de atores e o audiovisual brasilero foi para ele uma experiência enriquecedora.
– Uma frase que ficou na minha cabeça foi quando ele disse: ‘Não há um filme brasileiro contemporâneo que não tenha o DNA do Cinema Novo’. E eu concordo com ele. O Cinema Novo foi algo grandioso não só para o cinema, mas para a cultura brasileira. Cacá, com Glauber, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Nelson Pereira dos Santos, foi muito além do ofício de cineasta. Ele pensou o Brasil, questionou: que país é este? Que brasileiros somos? Ele deixa uma lacuna, mas também deixa um legado para as próximas gerações.

Cacá Diegues com o professor Flavio Kactuz e os estudantes da Comunicação (da esquerda para a direita): Pedro Romão, Gabriela Teitel, Lucas Dias e Rafael Simões. Crédito: Acervo Flavio Kactuz