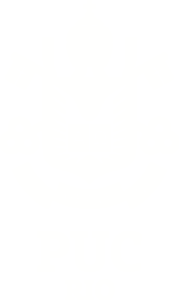Professora Vera Lucia Follain (PPGCOM/PUC-Rio) relança livro sobre a obra de Rubem Fonseca. Crédito: Branda Gusmão
A professora Vera Lucia Follain (PPGCOM/PUC-Rio) lançou a reedição do livro “Os crimes do texto: Rubem Fonseca e a ficção contemporânea”, com ensaios sobre a obra do escritor. O relançamento da Editora PUC-Rio celebra os 100 anos de nascimento de Rubem Fonseca. Na publicação, Vera, que teve o primeiro contato com o autor nas aulas da pós-graduação na PUC-Rio, agrupa artigos da edição original, de 2003, e inclui um posfácio dedicado a analisar os textos mais recentes dele. Conhecido pela multiplicidade, disrupção e inventividade, este representante da literatura urbana brasileira é responsável por 30 títulos, entre romances, contos e crônicas, que abordam as violências e os dilemas da vida nas cidades.
Publicada em 2003, a primeira edição do livro reunia artigos que resultaram de décadas de estudos sobre a literatura de Rubem Fonseca. O que continua atual na representação que ele faz da sociedade?
A obra do Rubem se atualizou ao longo das décadas. É uma obra longa que começa a ter mais visibilidade nos anos 1960 e entra nas duas primeiras
décadas do século XXI. No início, ele dá importância às tensões na cidade, ficou famoso por isto, com contos que falavam de assaltos, assassinatos, que
tinham trama policial e prendiam a atenção do leitor. Ao longo do tempo, ele transforma a abordagem das tramas da cidade de acordo com as mudanças do contexto histórico. No século XXI, aborda questões raciais, de violência racial e de gênero, sempre com muita ironia. Os contos absorvem as causas e tensões da luta das minorias contra o preconceito. Há também a violência do cotidiano, como a doméstica. Nos últimos contos há a questão da internet, ele menciona o Google, faz várias brincadeiras com as redes.
No posfácio, você menciona que nas obras publicadas no século XXI a violência toma uma nova dimensão, enraizada no cotidiano e pautada nas
diferenças sócioeconômicas. Ele conseguiu falar destas dinâmicas por causa da redemocratização?
Rubem Fonseca começa a ter mais visibilidade em plena ditadura militar. E um ponto é como ele trata a questão da violência, faz uma abordagem também filosófica, nietzschiana, sempre se pergunta o que é violência. Questiona se não é uma violência que as pessoas justificam ou que é condenada
contundentemente. O Rubem trabalhou com esta relativização, sem defini-la de maneira absoluta. No início, como em “Feliz Ano Novo”, de 1975, sobre um assalto realizado por rapazes pobres em uma casa de milionários, ele aborda a violência por um viés. Depois, aos poucos, dá mais atenção à violência cotidiana. Aborda diferenças sociais, falta de oportunidade, relação patrão e empregado, de pais com os filhos. Mas tudo já existia no início porque trabalhava com uma visão relativista do que é violência.
Mais de 20 anos depois da publicação do livro, como fazer para que a leitura e análise dos textos do autor não caiam no anacronismo?
Eu não alterei substancialmente as leituras que já tinha feito. Fiz uma revisão das sutilezas, mas não mudei o eixo dos textos publicados na primeira edição. Acrescentei um posfácio em que busquei focalizar a obra mais recente dele. Procurei ver como o Rubem Fonseca dialoga com cada momento histórico da sociedade brasileira, com cuidado para não ser anacrônica. Não se pode cobrar do Rubem, com 80 anos, o mesmo olhar que ele tinha aos 40. Não só porque a sociedade brasileira mudou, mas também porque ele mudou. É claro que você tem alterações ao longo do tempo quando se trata de um escritor com obra tão extensa, mas o crítico tem que ter a sensibilidade de perceber que as alterações não significam traição da obra ou decadência. São novos olhares, ou o mesmo olhar, com mudanças naturais com o passar do tempo.
Você destaca a intertextualidade presente na produção de Rubem Fonseca. É importante ter certo repertório literário para apreciar os textos
dele ou eles se explicam por si próprios?
O Rubem tira bastante partido disso, cita escritores clássicos como Gustave Flaubert, Liev Tolstói e outros, e às vezes faz uma referência irônica sem dizer o nome do autor, mas você capta pelo jeito como ele cita. A intertextualidade não é só com a literatura, mas também com jornais e a internet. A obra dele sempre dialoga com outros textos, mas ela se explica por si mesma. Uma das razões do sucesso da obra dele é o fato de atrair dois tipos de leitor. Isto porque a trama é envolvente. Rubem não abre mão de um enredo que atraia o leitor comum, mas o leitor com mais repertório é atraído pela trama e pelos jogos intertextuais.
Os ensaios do livro não seguem uma lógica linear ou cronológica. Este arranjo facilita a leitura do Rubem tanto para novos quanto para antigos
leitores?
Eu não quis seguir uma ordem cronológica da publicação dos livros porque ele cita a própria obra, retoma temas que já abordou antes, nega afirmativas que o personagem dele tinha dito em outra obra anterior. Se você trabalha cronologicamente, você perde este jogo. Preferi ser fiel ao jogo que ele trama
na própria literatura e seguir este convite que ele faz ao leitor. Pensei que seria a forma menos entediante de fazer um livro de leitura e interpretação da obra do Rubem Fonseca. É um livro de ensaio, se seguisse uma linha cronológica, poderia cansar o leitor muito rapidamente. Achei que se eu ressaltasse os eixos principais, com uma obra posterior conversando com a anterior, talvez conseguisse prender mais o meu leitor.